GUILHERME W. MACHADO
Nunca gostei muito de expressões
como “filme de arte”, até porque nada dizem, realmente, sobre as obras as quais
se referem. O que, afinal, faz de um filme um filme-arte? O polonês Ida, um dos grandes candidatos para
vencer o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro 2015, vem sendo descrito como tal.
Seria pela sua fotografia em preto e branco? Seu formato de tela 4:3
(tela quadrada), que era mais utilizado em filmes antigos? Sua narrativa
introspectiva e “lenta” (como é geralmente chamada)? Ou seria pelo seu enredo
que busca, pretensiosamente, discutir temas como a religião, relações
familiares e o próprio passado histórico da polônia? Enfim, não sei dizer se Ida é um filme de arte, ou por que, mas
é evidente que Pawlikowski buscou, para essa sua obra, inspiração num cinema já
incomum aos tempos atuais, como o do mestre dinamarquês Carl Theodor Dreyer – nem preciso dizer o quão distante em qualidade está essa comparação, mas fato é que não foi um fracasso retumbante.
Ida
é um filme de fantasmas, fantasmas que assombram o que restou de uma família,
fantasmas de um país profundamente afetado pela guerra (a segunda guerra
mundial, no caso). Anna é uma jovem órfã, às vésperas de fazer seus votos e se
tornar freira, quando é incumbida da tarefa de visitar sua tia – única parente
viva e que ela nunca conheceu – para que apenas depois esteja pronta para entregar-se
à vida clerical. Nesse encontro a jovem descobre que seu nome é Ida e que ela
é, na verdade, judia. Acompanhada de sua tia, Ida parte então numa espécie de
jornada para encontrar o local onde fora enterrada sua família durante a
guerra.
As escolhas estéticas passam longe
de serem gratuitas e fornecem uma bela experiência visual, corroborando com a
atmosfera sóbria e introspectiva do filme. O enquadramento 4:3 – do qual, devo
admitir, eu gosto bastante – foi inteiramente aproveitado por Pawlikowski, que
compôs meticulosamente cada quadro do filme e soube muito bem traduzir o
espírito dessa história em imagens. Triste e envolvente. Aqui entram também
outros dois fatores que foram importantíssimos nessa construção estética e
narrativa: a ótima montagem, que lidou habilmente com a estaticidade das
imagens capturadas por Pawlikowski e conseguiu dar fluidez à obra; e a
belíssima fotografia que aproveitou ao máximo a sobriedade proporcionada pelo
preto e branco e ainda conseguiu criar lindas imagens.
A princípio, a insistente recusa de
Pawlikowski de mover sua câmera parece gratuita. Depois, apenas no último plano
do filme (no qual a câmera finalmente se move), que me fez sentido: a câmera
era estática, como era a vida da protagonista durante o filme, sem qualquer
convicção; pré-definida; imóvel. Isso muda apenas no ótimo final, quando Ida
percebe que a vida “normal” não é menos aprisionadora ou monótona que a vida
clerical à qual se dedicaria. Somente então que ela descobre o que realmente
deseja e recupera seu propósito. Nesse momento, apenas, a câmera se move, assim
como Ida; elas agora vão a algum lugar.
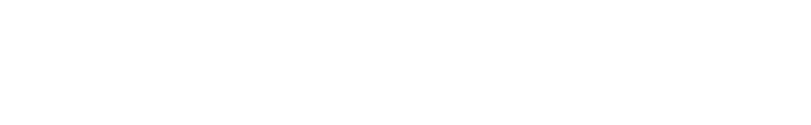





Comentários
Postar um comentário