GUILHERME W. MACHADO
Então...
Demorei, confesso, para escrever esse texto. Não porque precisava de tempo para
pensar, afinal o filme é tão plano quanto as palavras de seu diretor, revelando
prontamente suas intenções na tentativa de passa-las por algo mais complexo.
Demorei precisamente porque a busca por importância na qual incorrem diretores
como Aronofsky é, em geral, apelativa a um público sempre à procura de um gênio; pensei, portanto, se era uma polêmica que valia a pena ser
comprada (até porque incitar essas discórdias insossas faz parte da estratégia
de venda de Mãe!, e isso eu não
queria alimentar de jeito nenhum).
Verdade
é que o filme-alegoria está em moda. Mais em moda ainda é anunciar um filme
como sendo uma alegoria, subestimando a capacidade do público para percebe-lo
como tal – quando, sinceramente, essas ditas alegorias costumam ser bem francas
e diretas – e, claro, assim vendendo muito mais ingressos. Mas Darren Aronofsky
foi além disso em Mãe!, ele fez um
filme que é várias alegorias ao mesmo tempo (!). É justamente essa constante
indecisão sobre o tom ou mesmo a temática do filme que mais o machuca.
Aquecimento
global, referências bíblicas (Ed Harris e Michelle Pfeiffer como Adão e Eva foi especialmente ineficiente), opressão feminina, até o artista reprimido, são
alguns dos temas (clichês, na realidade) de um filme que tenta ser metafórico e
inquisitivo, mas acaba sendo derivativo, na melhor das hipóteses. Não há
maturidade no trato desses assuntos, que nunca saem de um enfadonho lugar-comum.
Aronofsky até tenta abraçar o seu caos criativo e fazer dele algo interessante
justamente pela sua inerente desorientação – o que eventualmente funciona no
filme – mas esses lapsos são rapidamente anulados por péssimos momentos pretensiosos, como
aquela baboseira sobre o “criador” no fim. A escrita, aliás, é especialmente
ruim: os personagens são planos, unidimensionais; os diálogos explicativos e
com frases baratas de efeito; e a trama em si opera num loop óbvio de
referências que sufocam qualquer frescor de originalidade que a obra poderia
conter.
Os
problemas continuam quando o autor também tenta apoiar-se em referências
cinematográficas na sua construção formal. Que Aronofsky imita Polanski já se
sabe há anos, e Cisne Negro (2010) foi
o melhor resultado desse processo. Em Mãe!
ele adiciona – pedindo perdão antecipado pela heresia – Buñuel e Bergman (particularmente
A Hora do Lobo) na mistura, com um
toque de O Filho de Saul (2015) –
que já foi uma bomba – na movimentação de câmera, que é tão derivativa quanto o
enredo. Metade do trabalho cênico de Aronofsky parece estar ali pra explorar as
duas coisas boas que tem no seu filme: Jennifer Lawrence e a casa, cujo design
de produção é bem bacana. Não tem outro motivo real para grudar a câmera na
atriz e fazê-la perambular pela casa (frequentemente em planos inúteis), além,
claro, do fato do diretor estar envolvido romanticamente com ela.
No
fim Mãe! é tão sem vida quanto seus
personagens sem nome e tão escandaloso quanto o typing de seu título, com uma
exclamação no fim, um grito por atenção. Podem me chamar de hater, ou até de
recalcado, tanto faz, mas fato é que esses filmes feitos para “causar” – e desse
balaio Lars Von Trier é rei – são geralmente previsíveis em suas provocações e
dotados de uma rebeldia adolescente, mas sempre cativam sua parcela fervorosa
de público que lutará com unhas e dentes pelo seu reconhecimento e se
defenderão dos detratores com o antigo clichê: não entendeu as referências. Por
favor...
NOTA (1.5/5)
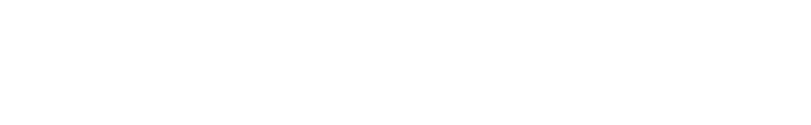





Comentários
Postar um comentário